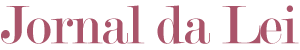Quando, a bordo do cruzador Missouri, o ministro das Relações Exteriores do Japão, Mamoru Shigemitsu, junto com o chefe do Estado-Maior da Armada Imperial, general Yoshijiro Umezu, assinou a rendição japonesa diante do general norte-americano Douglas McCarthur, os dois envergonhados representantes do imperador Hiroito oficializavam ao mundo a derrota do esforço de guerra nipônico diante do poderio armamentício dos Estados Unidos. O dia era 2 de setembro de 1945. Após seis anos de ferrenhas batalhas, de massacres desumanos, de heroísmos e vilanias, de destruição e dor, o mundo deixava de sangrar. O maior conflito armado da história da humanidade terminava. A ferida havia sido fechada. Um período de trevas dava lugar a uma época de renovadas esperanças.
A Segunda Guerra Mundial foi um marco em diversos aspectos. Nunca antes um conflito havia envolvido tantos países em tantas frentes de batalha. O uso de estratégias militares alcançou um patamar inédito, assim como o de modernos armamentos de destruição maciça. Uma guerra que expôs o que de pior o ser humano é capaz de fazer, em que o ódio passou por cima do respeito que deve existir até entre inimigos.
Os números não são exatos, mas cerca de 55 milhões de pessoas morreram no conflito que envolveu 72 nações, inclusive o Brasil, mas que teve como protagonistas, de um lado, Alemanha, Itália e Japão, e, do outro, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Além disso, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos dão a noção real do tamanho do ocorrido.
Sentimento de injustiça semeou o ódio
Os terrores da guerra que varreu um continente inteiro ainda ecoam no imaginário humano. De 1939 a 1945, canto algum do planeta conseguiu ficar indiferente ao que ocorria na Europa. Depois disso, nenhuma ação política ou diplomática envolvendo duas nações soberanas passou incólume ao impacto e aos efeitos da barbárie. O mundo se dividiu, geograficamente, socialmente e politicamente, em antes e depois da grande guerra.
Dois dos pontos mais afetados pelo conflito global foram as relações entre os países e as normas jurídicas que as regem. O papel da diplomacia como meio de se evitarem novas guerras ganhou importância, assim como o do Direito Internacional e a sua função de mediar o contraditório, regrando essas relações por meio de tratados, e, se as tentativas pacíficas falharem, levar a julgamento e aplicar as penas a quem desrespeitar as regras supranacionais.
A eclosão da Segunda Guerra Mundial tem relação íntima com a sua antecessora, a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919 e que deu fim, oficialmente, ao conflito iniciado em 1914, imputou aos alemães as responsabilidades pelo ocorrido. Com a derrota nos campos de batalha, a Alemanha sofreu uma série de punições. Entre os pontos presentes no acordo de paz, estava a cedência de parte do território germânico, a restrição ao tamanho do Exército e o pagamento de uma indenização em dinheiro.
Os duros termos do acordo feriram ainda mais uma já combalida nação e serviram de fagulha para que, sentindo-se injustiçado, um austríaco de nascimento, ex-combatente condecorado do primeiro conflito e então chanceler alemão desse início a uma reação do país frente à humilhação internacional.
Político hábil, Hitler criou cenário para a dominação
| AFP/JC |

Hitler observa a cidade de Praga
em 17 de março de 1939, dois
dias depois da invasão da
Checoslováquia pela Wehrmacht
|
Adolf Hitler engendrou sua assunção ao posto de líder máximo da nação cinco anos antes do início da guerra. Em abril de 1934, o chanceler e o então ministro da Defesa alemão, Werner von Blomberg, se encontraram a bordo do encouraçado Deutschland. Lá, acordaram que a Wehrmacht (Forças Armadas) apoiaria Hitler a ser alçado ao posto de presidente quando da morte de Paul von Hinderburg, que ocupava o cargo, à época com 86 anos de idade.
Para assumir a liderança do país, porém, era preciso que alguns "indesejáveis" integrantes do Partido Nacional Socialista (Partido Nazista) saíssem de cena. Na noite do dia 30 de junho para 1 de julho, agentes da segurança pessoal de Hitler, a Schutzstaffel (tropa de assalto conhecida pela sigla SS), saíram à caça e mataram por volta de 200 pessoas ligadas à Sturmabteilung (unidade de defesa, ou SA). O episódio dos expurgos ficou conhecido como A Noite dos Longos Punhais. O caminho para o posto de guia da nova nação que se erguia estava livre.
Assim, quando o velho presidente faleceu, em 2 de agosto de 1934, o líder nazista tornou-se, com total apoio do Heer (Exército), da Kriegsmarine (Marinha) e da Luftwaffe (Força Aérea), comandante supremo das forças militares, as quais fizeram juramento de lealdade a ele, e não ao Estado ou à função de presidente.
Aos poucos, com muita habilidade política, o Führer foi eliminando, dentro de suas próprias fileiras, aqueles que pudessem vir a se tornar um empecilho às suas aspirações, inclusive Blomberg. Foi em 7 de março de 1936 que a Alemanha desrespeitou claramente o Tratado de Versalhes, quando enviou tropas para a Renânia (território alemão), área que, conforme o tratado, deveria ficar desmilitarizada. De acordo com o historiador britânico Andrew Roberts, os homens de Hitler tinham ordens de retroceder se enfrentassem resistência francesa ou britânica e, se isso ocorresse, o novo presidente possivelmente perderia seu cargo, o que mudaria os rumos da história mundial.
Os avanços das tropas alemãs, com as anexações, consentidas pelas populações locais, da Áustria e dos Sudetos de língua germânica (que faziam parte da Checoslováquia), em março e em setembro de 1938, respectivamente, sem que tiros tivessem de ser disparados, foram, novamente, acompanhados com complacência por Inglaterra e França, as duas principais potências europeias na época. Líderes como o primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain confiaram no discurso pacifista de Hitler no pré-guerra. Aqueles seriam os únicos movimentos da Wehrmacht em territórios estrangeiros, garantia o alemão. Foram apenas os primeiros.
Para concretizar seus ideais expansionistas, o Führer precisava, necessariamente, evitar um conflito que poderia, precocemente, dar fim aos seus planos. Em 24 de agosto de 1939, o ministro do Exterior nazista, Joachim von Ribbentrop, e o seu colega soviético, Vyacheslav Molotov, assinaram um pacto de não agressão entre as duas nações. Hitler colocava de lado, assim, sua aversão aos bolcheviques e conquistava a garantia de que não iria ter problemas futuros com o Exército Vermelho, primeiramente, em sua campanha para a anexação da Polônia (a qual contou com o apoio russo e que resultou na divisão do território polaco entre ambos), iniciada em 1 de setembro de 1939, e, a posteriori, em suas ambições de domínio do continente.
Dois dias depois da invasão da Polônia, em que foram empregados mais de 1,5 milhão de soldados nazistas, franceses e ingleses deixaram seu estado de inércia diante de todos os sinais dados por Hilter e declararam guerra à Alemanha. Tinha início o maior conflito bélico e um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. As peças do jogo sociopolítico mundial haviam se movimentado sobre o tabuleiro. Nada seria como antes.
Valerio Mazzuoli: “As regras jurídicas não resolvem todos os problemas”
Suzy Sarton
O término da Segunda Guerra causou uma alteração profunda no foco do Direito Internacional (DI). Especializado em questões estatais, não havia preocupação com o indivíduo. Os horrores ocorridos durante o Holocausto fizeram com que o respeito ao ser humano ganhasse visibilidade. Em entrevista ao Jornal da Lei, o professor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Valerio Mazzuoli, explica que, mesmo com avanços, o DI ainda tem um grande caminho a percorrer.
Jornal da Lei - Até que ponto as ferramentas jurídicas conseguem agir em casos de conflitos?
Valerio Mazzuoli - O DI não tem garra para trazer para si a competência de regular fatores que estão acima dos Estados, como questões econômicas e políticas. Isso causa desgosto porque, quando os emaranhados de acordos e tratados são desfeitos, fica perceptível que os mecanismos de coerção são frágeis. O DI é tão complexo no papel, tão forte na teoria, mas muito fraco na prática. Se dependermos somente da ONU ou de um tribunal internacional, a efetividade sempre será precária. Impor regras pelo poder político e pelo uso da força é mais atrativo, pois os resultados são melhores. Isso não pode impedir, porém, que a sociedade busque mecanismos que coíbam práticas dessa natureza. A força sempre pretendeu estar acima do Direito, mas a força do Direito deve estar sempre acima do direito da força.
JL - O Direito Internacional ainda tem espaço para avanços?
Mazzuoli - A tendência, em matéria de sentenças, execuções de laudos e extradições, é a cooperação internacional. A ideia é motivar a cooperação, sem coerção, sem processos. A arbitragem e a mediação de conflitos também estão em ascensão, e servem para evitar a judicialização. Não podemos ignorar o bom senso: as regras jurídicas não resolvem todos os problemas do mundo. Na Síria, por exemplo, muitas pessoas fugiram do país devido à guerra civil. O DI tem poderes restritos para lidar com essa situação e a ONU pouco faz para minimizar os problemas. A diplomacia multilateral acaba ganhando, portanto, um papel relevante na solução desses casos.
JL - Qual foi a contribuição do Tribunal de Nuremberg, criado após o término da Segunda Guerra, para a mudança de foco no DI?
Mazzuoli - O Tribunal de Nuremberg julgou as autoridades colaboradoras do regime nazista, e o Tribunal Internacional de Tóquio, as autoridades japonesas envolvidas em crimes na Segunda Guerra. Os indivíduos que agiram em nome do Estado passaram a ser responsabilizados. Até então, entendia-se que as pessoas agiam em nome do Estado, e em caso de violação, o Estado que deveria ser penalizado. Foi o princípio do Tribunal Penal Internacional (TPI). Quando as pessoas passaram a sentar no banco dos réus, nasceu uma justiça penal internacional.
JL - Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou o Brasil por crimes cometidos durante a ditadura, indo de encontro à Lei da Anistia. Também em 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou contrariamente à revisão da Lei de 1979. Como equilibrar esses desarranjos entre as legislações nacionais e decisões das cortes internacionais?
Mazzuoli - A decisão da CIDH tem poder sobre a do STF. Se não o fosse, não haveria motivo para a existência de tribunais internacionais. O STF não dá a última palavra em matéria de direitos humanos. O Brasil, se não cumprir a decisão da Corte, comete nova violação. É lamentável que o Judiciário não cumpra essas decisões. Não podemos ratificar o tratado e não cumpri-lo. Nos termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os Estados têm o dever de adequar as legislações internas aos comandos da Convenção. Nenhum Estado é obrigado a fazer parte de um instrumento internacional, é possível que se desligue. Faremos como a Venezuela, que rompeu com a convenção, ou demonstraremos que respeitamos as normas internacionais? Se quisermos avançar na proteção dos direitos humanos, temos de cumprir as decisões de tribunais regionais especializados.
Na próxima semana:
- O surgimento do Direito Internacional e sua evolução no século XX
- A efetividade do DI versus a soberania das nações





 Facebook
Facebook Google
Google Twitter
Twitter